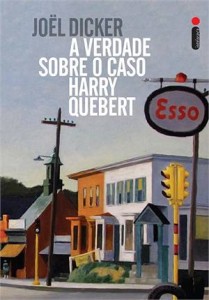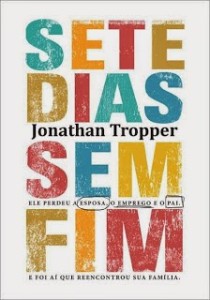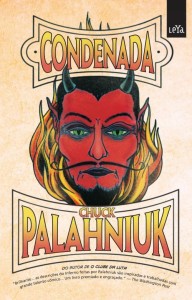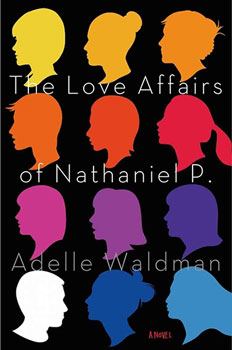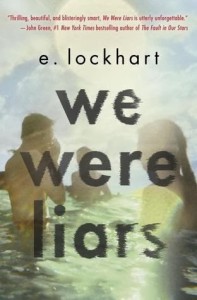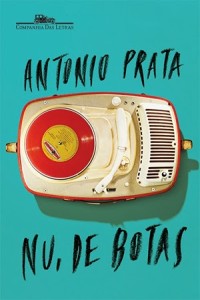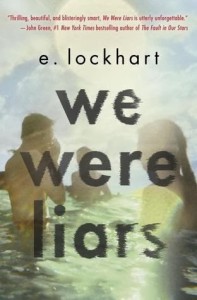
(Dicona: post para quem já leu o livro ou não liga muito sobre essa coisa de “experiência de leitura”, porque ao falar sobre “experiência de leitura” e sobre o livro em si, eu provavelmente estragarei as coisas para você, veja só que contraditório.)
Assim que a discussão sobre spoilers retornou com força por causa do tal do purple wedding do Game of Thrones (que eu não assisto, não leio e não dou a mínima, vale ressaltar) eu imediatamente lembrei de O Sexto Sentido. Lembrei de ter ido ao cinema com minha mãe e irmã sabendo pouco mais do que “É um filme com fantasmas”, o tipo de coisa que é quase impossível em tempos de redes sociais, blogs, fóruns de discussões e afins. X-Men estreia oficialmente esta semana e eu já sei que terá uma cena foda envolvendo o Mercúrio. O segundo dos Vingadores nem chegou mas já vi fotos da Feiticeira Escarlate. É toda uma cultura de divulgação que se sustenta em adiantar para o público o que ele deverá ver e como deverá se sentir.
Pois bem, O Sexto Sentido. Só fantasmas. Vou dizer que minha principal surpresa não foi nem o plot twist, foi pensar que aquele cara maluco de cueca no começo do filme era o Donnie dos New Kids, hehe. Mas ok, aí você tem o plot twist, e então você volta para o cinema para tentar ver o que deixou passar para não ter previsto a virada, e nossa, que filme legal e engenhoso, como tudo se encaixa direitinho, vou indicar para um amigo, e ele indicará para outro amigo e pans, sucesso. A impressão que tenho é que se eu tivesse assistido a uma propaganda dizendo “VOCÊ TERÁ UMA SURPRESA NO FIM QUE FARÁ COM QUE VOCÊ QUEIRA ASSISTIR AO FILME NOVAMENTE”, eu provavelmente assistiria ao filme já procurando pistas para a tal da surpresa, o que estragaria a experiência. Mais talvez até do que saber qual é o grande-evento-que-não-deve-ser-mencionado.
Continue lendo “We Were Liars (E. Lockhart)”
 Nada como a leitura de um outro título do mesmo autor para entender o que fez com que você gostasse tanto da primeira leitura. Estava dando uma sondada aleatória na Amazon, vi uma capa num padrão familiar e “Uou, livro novo da Maria Semple?”. Bom, não é novo. É anterior ao Cadê você Bernadette?, mas essa edição nova chegou no fim de agosto e tem a tal da capa que comentei (e que ilustra esse post).
Nada como a leitura de um outro título do mesmo autor para entender o que fez com que você gostasse tanto da primeira leitura. Estava dando uma sondada aleatória na Amazon, vi uma capa num padrão familiar e “Uou, livro novo da Maria Semple?”. Bom, não é novo. É anterior ao Cadê você Bernadette?, mas essa edição nova chegou no fim de agosto e tem a tal da capa que comentei (e que ilustra esse post).